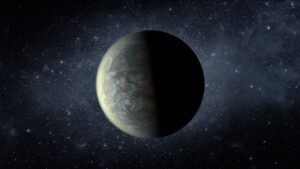Caçadores retornaram de uma longa jornada pela floresta e foram recebidos pelas mulheres, que haviam preparado as bebidas tradicionais. No centro da aldeia, estava enterrado o tronco serrado da árvore sagrada, descascado, pintado e decorado com grafismos próprios. Ao redor dele, os Arara dançaram, rezaram, fizeram pedidos e agradecimentos. Cantaram. Abraçaram o tronco. Ieipari — como chamam o espírito da árvore — estava feliz. O povo Arara, novamente unido, se fortalecia para enfrentar um dos períodos mais difíceis de sua história.
No fim de março, pela primeira vez em décadas, o ritual mais importante desse povo voltou a ser realizado. Pouco antes da mobilização indígena no 21º Acampamento Terra Livre, realizado em Brasília entre 6 e 11 de abril, os Arara se fortaleceram para enviar uma comitiva de jovens lideranças à capital federal.
A comunidade vive na Terra Indígena Cachoeira Seca, às margens do rio Iriri, no oeste do Pará. São cerca de 150 pessoas que falam uma língua da família Karib. Em 1987, eram apenas 31 quando fizeram o primeiro contato com a Funai. Nas décadas seguintes, viveram de forma relativamente autônoma. Mas, com a demora na demarcação, sua terra foi invadida por madeireiros da empresa Bannach, grileiros da Transamazônica e pescadores ilegais. A desintrusão do território segue sendo a principal demanda dos Arara.
Nos últimos dez anos, uma tempestade de violências atingiu o povo. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte — sustentada por arranjos institucionais de um Estado colonial — teve efeito devastador. A Funai em Altamira foi sucateada. O impacto cultural foi comparado a uma bomba atômica.
A desintrusão do território segue sendo a principal demanda dos Arara
O contato com os Arara foi feito em 1987 por Afonso Alves da Cruz, o Afonsinho, sob coordenação de Sydney Possuelo e Wellinton Figueiredo. Considerado um caso de sucesso, o processo foi cauteloso: a primeira gripe só chegou mais de três anos depois, quando a comunidade já estava fortalecida e produzia alimento nas roças. Até 2010, uma equipe pequena liderada por Afonsinho impediu a entrada de missionários, cachaça, pescadores e madeireiros. Com a reforma administrativa da Funai e a demissão dos servidores conhecidos pelos Arara, a estrutura ruiu. Nesse vácuo, a Norte Energia passou a comandar as relações socioeconômicas na região. O resultado foi um massacre cultural. A terra dos Arara tornou-se uma das mais desmatadas do Brasil.
Em apenas uma geração, a língua deixou de ser falada por todos e passou a estar ameaçada. As roças desapareceram. O povo perdeu a soberania alimentar e tornou-se dependente. Adoeceu, enfraqueceu. Tornou-se ainda mais vulnerável diante da política anti-indígena do governo Bolsonaro, marcada por ações de extermínio. A curva descendente colocava em risco sua própria existência.
Em 2023, uma das principais lideranças, Tymbektodem Arara, foi encontrado morto no rio Iriri. A polícia não apontou causa. Ele havia falado na ONU sobre a situação do seu povo e recebido ameaças.
Apesar das perdas, os Arara conseguiram se reorganizar. Estabeleceram parcerias com o Instituto Maíra, o Cimi e o Instituto Socioambiental. Receberam atenção diferenciada da nova equipe da Funai, do Ministério Público Federal e do Ministério dos Povos Indígenas. Conquistaram o apoio da Sesai, com profissionais dedicados à saúde do povo. Criaram sua própria associação, a Kowit. Redigiram um protocolo de consulta, lançaram a campanha Guardiões do Iriri durante a pandemia e tornaram-se protagonistas de sua luta por autonomia.
A retomada do ritual de Ieipari marca uma virada. O cacique Mobu Odó Arara, o vice-cacique e intelectual Iaut Arara, o guerreiro Arapuka e lideranças do recém-criado Departamento de Mulheres do Povo Arara — como Wiwik, Tyapompó e Adaun — conduziram a celebração. Receberam apoio da Funai (com combustível) e do Instituto Maíra (com insumos). Para o próximo ritual, esperam já ter novas roças produzindo alimento.
Os jovens nunca haviam testemunhado esse rito sagrado. Muitos adultos haviam esquecido partes essenciais. Mas contaram com mestres como o pajé Munkode Arara, do grupo que fez o primeiro contato em 1981, e que nunca deixou de praticar o Ieipari.
Iaut, caçador, cantor e conhecedor dos saberes tradicionais, permaneceu na aldeia durante a caçada para ajudar nos preparativos. Preocupava-se com os jovens, que, segundo ele, “não querem levantar cedo, não respeitam os rituais, e de repente o branco chega e mata”. Ele acrescenta: “Temos que ficar espertos para preservar nosso povo vivo”. E insiste: “Não sei escrever, mas sei falar bem minha língua. Não tenho vergonha. Quem aprender a língua vai conhecer os remédios, as plantas, os cipós, fazer arco e flecha…”
Coube a Iaut escolher na floresta a árvore a ser sacrificada. Um momento ritualístico de diálogo cosmológico entre o xamã e o espírito da árvore. “Na floresta tem vida”, me disse.
Kaskora, liderança feminina, comentou: “O ritual foi ótimo. Eu não tinha conhecimento. Agora que estou conhecendo o Ieipari. Foi bom para mim e para os mais jovens. Obrigada por nos ajudar a resgatar a nossa cultura.”
Conheci Afonsinho em 2006 e, até sua morte, realizei diversas entrevistas com ele. Algumas foram reunidas no livro Memórias Sertanistas (Sesc, 2015). Participar do Ieipari foi uma oportunidade de ler aos Arara as memórias desse sertanista, que consideram herói. Quem sabe, também, contribuir para que possam reimaginar um futuro — um futuro ancestral.
A voz de Mobu Odó Arara
Em depoimento exclusivo, o cacique Mobu Odó Arara traça paralelos entre a retomada do Ieipari à urgência de blindar a juventude contra o apagamento cultural — uma luta que se trava tanto na floresta quanto nas salas de aula.
Confira os destaques a seguir.
“Eu me chamo Mobu Odó Arara, cacique da Aldeia Iriri, na Terra Indígena Cachoeira Seca. Celebramos o Ieipari para lembrar aos nossos jovens que a cultura é o que nos mantém de pé: ela é identidade, é resistência. Durante uma semana, nós, homens, entramos na floresta numa caçada coletiva e voltamos com alimento para sustentar a festa. Enquanto isso, as mulheres preparam as bebidas tradicionais – Piktu e Amru – e nos recebem, na beira do rio, com cantos e danças que nos conduzem até a casa de palha erguida na entrada da aldeia. Ali disparamos flechas contra a palhoça para afastar maus espíritos, tocamos a flauta ancestral e entoamos canções guiadas por Iogó, nossa anciã mais velha, que canta a trajetória do povo Arara e recorda a força antiga das mulheres, sempre independentes e capazes até de caçar quando preciso.
Esse espírito de “todo mundo junto” – como diz nosso próprio nome – era lei entre nossos tataravôs. Nada era individualizado: comida, bebida, trabalho, tudo se fazia em comunidade. Queremos recuperar essa união porque perdemos muitos anciões e tememos que o conhecimento morra com eles. Eu mesmo carrego a culpa de não ter escutado mais meu pai antes de sua partida; hoje, estudando Licenciatura Intercultural na Universidade do Estado do Pará, percebo o valor de cada conselho que deixei passar. Na faculdade aprendo o modo do branco para defender nosso território, mas todo estudo tem um objetivo: fortalecer o canto, a roça, a rotina do povo Arara.
Para garantir essa autonomia criamos a Associação Kowit, homenagem a um grande guerreiro nosso, morto em emboscada por brancos antes do contato. A associação divide comigo a responsabilidade de dialogar com Funai, Ministério Público e parceiros, aliviando o peso que antes recaía só sobre o cacique. Assim reafirmamos que ninguém de fora deve decidir por nós.
O centro de tudo é o Ieipari, tronco sagrado escolhido na mata e adornado com grafismos, penachos e pinturas. Abraçamos essa árvore porque nela vive um espírito que escuta nossos pedidos e abre caminhos bons. É por respeito ao Ieipari e a tudo que ele representa que não derrubamos a floresta: ela é nossa casa, nosso remédio, nossa comida.
A relação com a igreja é delicada: quando chegaram, os portugueses disseram que nossos rituais não valiam nada, proibiram nossa língua e impuseram a catequese. Ainda assim, não expulsamos quem veio com boa intenção; apenas mantemos nossas rezas. Foi uma reza com fumaça que salvou minha filha quando bebê.
Embora precisemos lidar com duas culturas, rejeitamos a ideia de abandonar a nossa. A escola dos karei (não‑indígena) serve para entender leis e políticas; já a sabedoria dos antigos – língua, remédios, arte da caça – vem de mestres como Iaut, que aprenderam com os pais e hoje ensinam às novas gerações. Defendemos que esses mestres sejam reconhecidos e remunerados, porque a sobrevivência do nosso povo depende deles.”
Fonte ==> Casa Branca